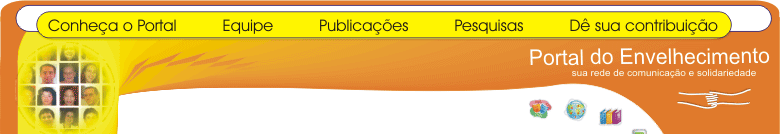
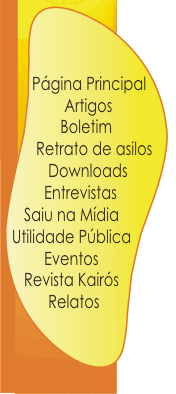
![]()
Violência, subjetividade e envelhecimento
Delia Catullo Goldfarb – pesquisadora mentora
O tema da violência, de qualquer ponto de vista que o abordemos, é extremamente complexo e nenhuma ciência ou área do conhecimento pode por si só dar conta dessa complexidade. E mesmo somando esforços teóricos podemos explicar apenas uma parte ínfima desse fenômeno. E apesar disso estaremos longe de evitá-la.
Ao longo da história do pensamento humano a violência sempre foi uma interrogação. É um tema que incomoda. Uma realidade a qual ninguém escapa.
Todos, por muito pacifistas que sejamos, em algum momento, nos descobrimos violentos, nos descobrimos odiando e fazendo, ou ao menos desejando, o mal para alguém. Ou seja, somos em maior ou menor medida, geradores de algum tipo de violência.
Em todas as sociedades há sempre um grupo que é marginalizado, que é isolado, que representa o que deve ser deixado de fora para garantir a coesão e a união da sociedade. E o que ocorre em qualquer comunidade em caso de “agressão externa”, é de todos se unirem ante o externo ameaçador. Mas, às vezes, o externo não é em si mesmo agressivo, mas é agressivo por ser externo, diferente, e provocar certo desequilíbrio e desarranjo na harmonia do grupo.
Conhecemos essa experiência desde crianças, quando chegamos a uma escola nova ou a um bairro novo e desejamos nos enturmar. Sabemos como é difícil conhecer os códigos do novo grupo, a dinâmica..., especialmente se somos portadores de alguma diferença evidente como algum tipo de deficiência, cor, ou até roupas que denotem uma condição cultural ou econômica diferente a do grupo.
O externo é o estranho, o estrangeiro, mas não um externo longínquo e desconhecido, porque desse não precisamos ter medo, não precisamos deixá-lo de fora. O estrangeiro é o externo próximo, o vizinho, aquele que por sua diferença nos ameaça e nos questiona. Quando a pobreza, por exemplo, estava confinada a determinados guetos e só a conhecíamos através de índices macro econômicos, não nos afetava tanto quanto chegarmos a casa e a vermos dormindo em nossas portas. Assusta porque está próxima demais. Queremos que continue sendo um outro distante, mas é um outro próximo.
Por isso, quando Simone de Beauvoir diz que “o velho é sempre o outro”, estamos falando de algo que está fora de nós, de algo no qual não nos reconhecemos, de um estrangeiro de nossas vidas que pretendemos sempre jovens. O colocamos de fora, o marginalizamos. Portanto, o que é estranho, desconhecido, diferente, resulta em si mesmo ameaçador e o marginalizamos.
Esta pequena introdução é necessária porque o tema violência tem, pelo menos, uma dimensão social e uma subjetiva, mas falar em dimensão é como falar da altura, largura e comprimento de um corpo, não existe uma sem a outra, o corpo não existe sem as três e este corpo da violência exige múltiplos olhares para descobrir e entender todas suas infinitas dimensões.
Tanto a dimensão subjetiva quanto a social de violência são interdependentes. Não existe uma sem a outra. Quando digo subjetividade, refiro-me a algo assim como o encaixe do intrapsíquico singular no social. Quando digo formas de subjetivação me refiro a “formas de ser no mundo”, a articulação entre o psíquico singular e o social.
A psicanálise tenta explicar, graças a seu corpo teórico específico, como a agressividade, ingrediente fundamental da violência, surge no psiquismo humano, que mecanismos psíquicos a fundamentam como possibilidade humana. Parece muito pouco para ajudar a explicar uma questão tão grave, mas não é por ser pouco que vamos prescindir dela.
Essa capacidade violenta do ser humano vai mudando segundo as diferentes épocas históricas. Segundo as situações sociais que um sujeito vive, criando-se assim diferentes formas de subjetivação em relação à violência.
Ou seja, a psicanálise está sempre olhando para um objeto em constante movimento. Então fica claro que para poder continuar entendendo a subjetividade, ela deve nutrir-se de outras áreas do conhecimento. Sem a antropologia, ética e política, por exemplo, a psicanálise não poderia somar muita coisa ao conhecimento atual.
Quando começa o processo de subjetivação?
O bebê humano é a criatura que nasce mais indefensa e que precisa de proteção por mais tempo. Forma uma unidade indissolúvel no ventre materno que se prolonga durante muito tempo além do nascimento. No começo de sua vida não diferencia dentro/fora, antes/depois, próprio/alheio, fundamentalmente não diferencia seu próprio eu do outro. E estas categorias de tempo, espaço e identidade, se constituem dolorosamente. O bebê sente fome e já não é alimentado automaticamente, tem que esperar (tempo) pelo alimento que chega de fora (espaço) pelas mãos de outro. O Eu começa a se constituir “na espera do alimento que não chega” e ele apreende dolorosamente que o outro do qual depende, o faz sofrer pois não está sempre disponível. E chora de raiva por isso.
Quando o bebê chora ou ri, ou manifesta qualquer emoção, a mãe põe palavras nessas manifestações, interpreta, dá sentido a emoções desordenadas, estrutura, reprime e ensina a dominar pulsões anárquicas e isso é também uma forma de violência necessária, que prepara acriança para o mundo.
Se o bebê receber uma série de estímulos exagerados, incompreensíveis para sua estrutura psíquica (e biológica) em formação, há um excesso inevitável. Por mais delicados que sejamos com um bebê, no choque com o mundo adulto ele se constitui na violência. O bebê deve apreender que ele é um outro diferente de sua mãe, deve haver certa separação para que se constitua em um outro eu. Há uma espécie de desamparo fundamental e constituinte no ser humano. Repressão necessária e necessariamente violenta para o psiquismo infantil. Mas na vida psíquica nada se perde, tudo se transforma, e os estímulos exagerados e violentos para com o bebê, aqueles estímulos que na precariedade de seu desenvolvimento não pode explicar, permanecem na vida psíquica como uma tendência agressiva autônoma.
Existe um texto interessante de Freud escrito em 1929, chamado: “O mal-estar na cultura”, em que ele se pergunta pela causa da infelicidade humana e chega a coloca que os motivos principais são:
· o declínio do corpo nos obriga a estar sempre lutando por um bem-estar físico que parece fugir sempre de nós;
· as forças da natureza difíceis de serem dominadas;
· a complexidade dos vínculos que sempre nos colocam em confronto com os outros; e
· a consciência de finitude que nos fala de um limite intransponível.
Em definitiva, forças que nos violentam em nosso desejo de perfeição, amor incondicional, eternidade. Nesse mesmo artigo, Freud assinala que os vínculos entre humanos são a fonte de maior satisfação e, logicamente, também, a de maior sofrimento, pois o homem, graças à sua capacidade agressiva, em seu amor por outro humano, deseja também possuí-lo, dominá-lo. O homem abandona facilmente sua capacidade solidária e pode explorar o outro como força de trabalho, explorá-lo sexualmente, até escravizar, estuprar, torturar, matar.
O que Freud postula é que os sofrimentos subjetivos estão relacionados a um mal-estar cultural e que, ao mesmo tempo, a cultura protege o sujeito do desamparo que ela mesma produz, organizando as relações humanas, impondo leis que permitem a vida em sociedade, criando mecanismos que regulam os desejos pessoais, a agressividade. Fica claro, portanto, que o que vai regular a agressividade produzida pelo processo de socialização, de renúncia às forças mais primárias de todo sujeito, são os mecanismos sociais.
No entanto, Freud diz que a evolução da cultura não significa necessariamente progresso e, mais ainda, diz que a própria evolução leva a sociedade a uma massificação e complexidade que requer mecanismos cada vez mais violentos de regulação, em que cada vez mais a singularidade se perde e crescem os sentimentos de impotência e solidão.
Passagem da natureza à cultura
Trata-se, enfim, da passagem da natureza à cultura, pois é nela que o sujeito psíquico se constitui. Nesse sentido, o sujeito psíquico é eminentemente um sujeito social, pois fora da cultura não se subjetiva. Sem a presença do outro nem sequer sobrevive.
O homem, para poder viver socialmente, renuncia a uma parcela ou à totalidade de sua liberdade e a delega à organismos encarregados de regulá-la, de manter a ordem e a justiça. Faz um contrato pelo qual renuncia a exercer seus desejos mais fundamentais em troca de bem-estar e segurança.
E, o social, responde a essa solicitação:
· outorgando as condições necessárias para que esse sujeito se desenvolva,
· para que dirija essa força para atividades criativas,
· para que ache vias possíveis para a realização de seus desejos, enfim, deve
· promover a proteção e não deixar os sujeitos no desamparo, para que as tendências agressivas sejam levadas pelo caminho da criatividade.
Ou seja, renunciamos nossos desejos mais primários e individuais para formar parte do grupo e adaptamos nossos desejos ao que o grupo espera de nós. Ao mesmo tempo, demandamos do grupo reconhecimento de nossos direitos, desejos, proteção, amparo, etc. Só assim o investimento mútuo será legitimado.
Assim como há um discurso dos pais que esperam a criança, há um discurso social que investirá no lugar que essa criança ocupará nessa sociedade.
O discurso social garante a continuidade da cultura, a criança vem ocupar um lugar predeterminado socialmente, espera-se que ela assuma o discurso social e garanta a continuidade das instituições, mas ela recebe algo em troca: se cumprir essa missão terá um lugar garantido na cultura. Ou seja, há uma permanente negociação. Entrego minha liberdade absoluta, contenho meus desejos, em troca de alguma coisa. Quando a negociação não é possível, necessariamente, surgirão situações de violência.
É como um contrato, porque há dois signatários: a criança e o grupo social que legitima sua existência. Contrato que é constantemente renovado, ou deveria sê-lo.
Para haver uma subjetividade que possibilite a vida, deve haver uma legitimação social, um lugar respeitado que possibilite o crescimento, a criatividade, alguma forma de bem-estar para que o sujeito fique a salvo de seus próprios componentes agressivos, para que não sinta medo de viver.
Isso quer dizer que quando a criança se afasta da proteção dos pais deve encontrar no social referências mínimas que lhe permitam um movimento de projeção de futuro onde será um porta-voz de seu grupo e transmitirá os valores herdados à sua descendência.
Para que o sujeito possa constituir-se - e sustentar-se - é necessário que esse espaço extra-familiar ofereça as condições mínimas de ser habitado. O sujeito deve conservar suas funções.
A criança autônoma do meio familiar deverá encontrar no discurso social um lugar garantido para isso que ela é, referências básicas que lhe permitam projetar seus investimentos num futuro no qual poderá realizar seu projeto identificatório, aquilo que lhe permita continuar sendo ela mesma no futuro. Conservar a identidade.
Deve haver um futuro garantido ou certo nível de certeza de poder construí-lo. Quando não ocorre isso, estamos ante uma forma primordial de violência, a violência que nega a continuidade da vida psíquica harmônica, que nega a possibilidade de se fazer planos para o futuro. Sem isso, a vida acaba.
Além das grandes violências como guerras, fome, genocídios etc., temos as não tão pequenas violências cotidianas, como a exclusão social que tem um efeito des-subjetivante. Ou seja, que faz com que a pessoa deixe de ser o que era, não só pelo efeito que produz nas vítimas, mas também nos resultados sobre o imaginário social, já que quando não se encontram formas adequadas de ser no mundo, os outros também deixam de vê-lo como sujeito social.
Há uma violência originária nesse processo de socialização que nos faz virar gente. Uma violência necessária que nos determina, que nos empurra a formas pré-estabelecidas de pensamentos, idéias, valores. Que determina até sentimentos e reações emocionais. Que nos impõe até as palavras que devemos usar para definir as coisas dentro de um código compartilhado.
Somos homens e mulheres, jovens e velhos, vivendo em uma cultura determinada que nos fazem ser de uma ou outra maneira, a termos determinados princípios éticos e determinados valores morais. Que nos oferece um pequeno leque de opções para discordar.
A partir do nascimento, os pais e a cultura falam com o bebê. Ensinam palavras, ou seja, definem as coisas para esse novo ser.
A linguagem divide os objetos do mundo em agrupamentos e categorias
A linguagem divide os objetos do mundo em agrupamentos e categorias. Por exemplo: divide em feminino e masculino, singular ou plural, aumentativo ou diminutivo. Quando um técnico diz: “meus velhinhos” para se referir aos cidadãos idosos usuários do serviço em que desempenha sua função profissional, para mim, estão dizendo muito mais, tanto no uso do possessivo “meus” quanto no uso do diminutivo ”velhinhos”. Com muito carinho e muito desejo de ajudar, pode estar falando de marginalização e exclusão. Pode estar falando de uma forma inconsciente de usurpação de um lugar social.
As palavras que usamos em relação às pessoas definem o lugar social que lhes é atribuído e define as relações de dominação. Em nossa sociedade, o lugar da dominação é atribuído aos adultos. As crianças e adolescentes são os que ainda não ganharam o poder de dominação sobre os outros, os idosos são os que já o perderam. Isso está enraizado na cultura.
Por mais que a cultura e os velhos mudem, acredito que esse lugar de exclusão vai continuar existindo de uma ou outra forma (inclusive como inclusão disfarçada) porque a velhice tem outro aspecto que é muito negativo. do ponto de vista de experiência humana tal como analisada na nossa cultura. A velhice é a última fase vital antes da morte e os velhos lembram aos jovens que eles também vão morrer, e numa cultura onde a morte é negada e excluída, quem está mais perto dela deve ser deixado de fora, marginalizado, pois nos lembra a finitude.
Uma colocação num lugar marginal, onde tudo se aceita para não ser rejeitado, expulso da comunidade. Temos então a figura do velho bonzinho, paciente, piegas, que não quer aborrecer ninguém, que se transforma em uma espécie de sombra do que já foi. Podemos encontrar aquele outro velho que agride a todos e por todos os lados, que faz da reivindicação sua atividade fundamental, que briga por tudo. Aquele outro que parece sentir um grande prazer em fazer mal aos outros. Podemos até encontrar aqueles que por causa de um enorme sofrimento partem para o esquecimento mais radical sob a forma de uma demência que também se entende como uma forma de agressão sobre si mesmo.
E, finalmente, aqueles outros, que lutam pelos seus direitos e os direitos dos demais de forma coletiva, conservando um lugar social e promovendo um outro olhar sobre eles. Ou, ainda, aqueles que guardam uma boa relação com o prazer. Estas duas últimas possibilidades, que sem dúvida é a que todos preferem, só se dará se esse sujeito, como membro de uma cultura, achar os mecanismos apropriados para o exercício da cidadania e contar, em sua própria estrutura psíquica, com os mecanismos necessários para esse exercício. E isso é uma questão histórica. Histórica no sentido da história singular e da história cultural.
Atualmente encontramos que certos atributos que antigamente deviam ser escondidos, agora devem ser mostrados ostensivamente. Nas empresas, por exemplo, têm sucesso os vendedores agressivos, os funcionários competitivos, quer dizer, aqueles capazes de trair qualquer princípio para ganhar do colega e produzir maior lucro. Qualquer funcionário ou empresário se quiser manter o trabalho, tem que matar três leões por dia.
Não se aceita que alguém sofra e se desespere por causa de um amor perdido, porque de qualquer forma a vida continua e tudo é descartável, até os sentimentos mais profundos. Estar deprimido passou a ser uma vergonha, pois parece denotar uma fragilidade de caráter, e ficar doente parece esconder alguma obscura tendência autodestrutiva.
Se exige estar sempre bem, um rendimento pleno, uma disponibilidade absoluta. Sofrimento e impotência passaram a ser sentimentos fora de moda quando, paradoxalmente, a pouca qualidade de vida que temos atualmente é provocada por isso.
Existe uma polarização bem marcada: o forte, o jovem, o independente, o onipotente é supervalorizado em detrimento do que possa aparecer como o frágil, o velho, o dependente, o impotente. Mas isto pouco tem a ver com a idade das pessoas, são valores.
Na velhice o contrato não é renovado
Podemos adivinhar como é difícil envelhecer em meio a esta realidade. Na velhice, o contrato de investimento mútuo sujeito-cultura, não é renovado. Acontece então um não investimento da cultura no idoso e dele na cultura. A representação simbólica do velho ainda é no imaginário social a da castração, decadência, morte.
Uma definição dada por Salvarezza, um pioneiro da gerontologia na Argentina, é a de viejismo. O termo define o conjunto de preconceitos, estereótipos e discriminações que se aplicam aos velhos simplesmente em função da idade. Dentro desse conjunto encontramos uma categoria mais específica que chamamos Gerontofobia e se refere a uma conduta inconsciente baseada no medo e no ódio irracional contra os velhos.
E como o medo se liga com a violência? Sabemos que o medo provoca atitudes defensivas e que a melhor defesa é o ataque. Ataque que vai desde a ignorância, exclusão, até o ataque direto da aniquilação. Em relação à violência o idoso geralmente é vítima, porém, também é freqüentemente seu agente. A violência é um fator histórico desse sujeito, se gera na sua história e se explica por ela.
Ninguém que tenha sido violento a vida toda passa a ser pacífico só porque envelheceu. Se foi um jovem violento, o mais provável é que seja um velho violento. E se foi uma mãe ou um pai violento, terão gerado violência na família e tratado seus filhos com violência. Muitas vezes a violência a que são submetidos os idosos, não são mais que o troco que recebem dos filhos, que também são violentos. Se uma filha foi abusada pelo pai, não podemos pretender que o cuide de velho, ela quer mais é que ele morra.
Além do mais a agressividade e a violência não se controla facilmente. A violência irrompe “violentamente”, incontroladamente, a pessoa é tomada por essa força que o domina e que não pode controlar. As maiores vítimas de violência física familiar são as crianças e os velhos. São os mais frágeis.
Mas também há outras formas de violências mais solapadas, mais disfarçadas, mais sistemáticas, que podem passar por um leque enorme de possibilidades que vão desde a negação de alimento à negação da palavra. Ou seja, além da violência física, há uma violência moral, financeira, sexual, etc.
De qualquer maneira, quando há uma situação de violência familiar contra um idoso, de qualquer tipo que esta seja, devemos pensar que por trás disso há um conflito familiar antigo. Aparentemente a família pode parecer bem estruturada e sem conflito manifesto. Mas se há violência, especialmente entre pais e filhos, é porque alguma coisa está acontecendo e não se está falando do assunto. Há uma agressividade que não é colocada em palavras, que não é simbolizada.
Se há violência em um casal, é porque há conflito, pode até haver amor, porém é um amor conflitivo. Além de pensar em um conflito familiar, devemos pensar na força que a ideologia social tem para determinar formas de violência que podem até não ter antecedente histórico na vida dessas famílias, mas que se referem a condutas inscritas na cultura. Se a cultura nos diz que velho é descartável, impotente, que é peso social e não patrimônio, de alguma forma nos está dizendo que não precisamos cuidar deles, porque de qualquer forma vão morrer.
Basta observar o discurso vigente em relação à previdência social. É um discurso que gera violência contra os idosos, porque legitima certa violência contra os velhos.
Agressividade para consigo mesmo
Devemos considerar também as formas de agressividade do sujeito para consigo mesmo. Quando um idoso, para conseguir um atendimento melhor ou mais rápido em um serviço público qualquer, assume uma conduta piegas, está se violentando, ainda que não saiba disso. Quando se dá demais para se obter de menos, há violência.
Basta lembrar o que Raul Pacheco diz no Caderno Temático da revista Kairós, intitulado Psicogerontologia, publicado em 2002:
Marginalizações, preconceitos e exclusão não são combatidos com piedade e comiseração, e sim, com luta e enfrentamento. E esse, como toda luta social, precisa ter como agentes, principalmente, os próprios beneficiários das eventuais transformações.
Para finalizar esta reflexão, eu me pergunto se em nosso cotidiano profissional e pessoal, não tentamos muitas vezes abafar essa luta e essa rebeldia. Se, guiados por nossos preconceitos mais inconscientes, não acabamos marginalizando o idoso através de um assistencialismo ou de um conceito de família que não existe mais. Ou, se por nosso próprio medo à velhice, tomamos os caminhos mais fáceis.
