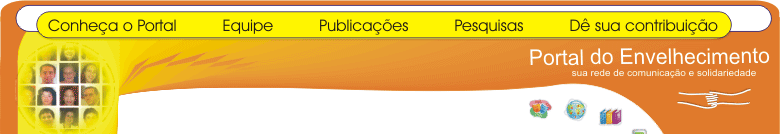
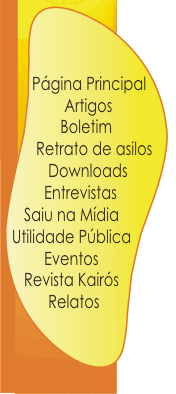
![]()
Breve
reflexão sobre a educação como pressuposto
para a cidadania do idoso
Por Maria Dusolina Rovina Castro Pereira – pesquisadora mentora
“...é preciso formular uma Gerontologia Educacional na perspectiva da educação transformadora que permita ao idoso como ser aprendente, ocupar um lugar significativo na sociedade e participar plenamente da vida. ...não qualquer educação, mas uma educação que estimule e liberte”.
Dra. Suzana Rocha Medeiros, 2000
Introdução
Ao final do século XX, o Brasil deparou-se, surpreso, com as estatísticas demonstrando o envelhecimento da população com idade igual ou superior a 60 anos, e a projeção de que, ao final da primeira década do século XXI, esse contingente representará 10% da população total, principalmente em decorrência da acentuada queda da mortalidade após 1940 e aos baixos níveis de fecundidade, principalmente após 1970[1].
Essa mudança na demografia brasileira representou um avanço do ponto de vista científico, mas exige que a Família, a Sociedade e o Estado se articulem, para proporcionar aos idosos, qualidade de vida e cidadania[2].
Na concepção moderna, capitalista, o trabalho e a educação fazem parte do processo de construção da cidadania: através do trabalho o indivíduo recebe seu salário e mostra que tem direito às relações sociais e à sua condição de cidadão; quanto ao Estado, procura garantir os direitos naturais dos homens: a conservação da vida e da liberdade e também da propriedade adquirida através desse trabalho.
Entretanto, as mudanças internacionais na Economia nos anos 80 e 90, trouxeram para o Brasil e toda a América Latina, uma destruição do parque industrial com drástica diminuição do número de empregos, e que gerou um novo modelo de acumulação do capital, um grande desequilíbrio na distribuição de renda com severo empobrecimento da população. Além disso, houve uma diminuição do papel do Estado, assolado pelo endividamento interno e externo, pelas propostas internacionais de privatização das estatais, pelo “estabelecimento de um Estado Mínimo, para cumprir apenas algumas funções básicas, como a educação primária, a saúde pública e a criação e manutenção de uma infra-estrutura essencial ao desenvolvimento econômico[3].
Aos poucos se percebeu que essas propostas neoliberais trouxeram, além do desemprego e dos baixos salários, uma valorização da produção independente, um aumento expressivo no número de trabalhadores informais, uma redução significativa na proporção de trabalhadores vinculados è Previdência Social e um empobrecimento das políticas sociais. [4]
O sistema público de educação no Brasil foi atingido duramente pela política neoliberal; em contrapartida, passou-se a apregoar a valorização “da educação em geral e da educação básica, em particular” . O que se vê, no entanto, é uma educação tecnicista, direcionada para uma “sociedade de conhecimento e qualidade total” e que, na verdade, atende aos interesses dessa sociedade globalizada, onde o treinamento contínuo é necessário para se manter a competitividade[5]. Apesar do discurso desse modelo, o que se viu nos últimos anos e ainda se vê, é a demissão do trabalhador adulto, qualificado, bem remunerado, embora com escolaridade menor e sua substituição por jovens e mulheres, quase sempre com maior escolaridade, mas com salários inferiores àqueles que remuneravam os demitidos.[6]
“O discurso ideológico da globalização procura disfarçar que ela vem robustecendo a riqueza de uns poucos e verticalizando a pobreza e a miséria de milhões...”[7]
Como envelhece esse homem ou essa mulher? O que sentem? Conseguirão eles superarem seu sofrimento moral e viverem seus dias com autonomia, tomando decisões por si mesmas e exercendo sua cidadania? “A educação ao longo de toda vida deve fazer com que cada indivíduo saiba conduzir o seu destino, e garanta o exercício de uma cidadania ativa”.[8]
A educação como ponto de partida
De 1993 a 1996, uma Comissão de Especialistas, a pedido da Unesco, realizou um relatório sobre a educação para o século XXI. Os pareceres defendem a idéia de que a educação é uma experiência global que se desenvolve durante toda a vida e, para isso, apóia-se em quatro pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser[9].
Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia, alerta para a força que tem a ideologia dominante em esconder da maioria a veracidade dos fatos, escondendo-os atrás de uma “névoa”, fazendo-nos aceitar que a realidade é imutável, “que não há nada a fazer, que é preciso seguir a ordem natural dos fatos”[10]. No entanto, alerta, é urgente que as pessoas tomem consciência de que é preciso substituir a ética de mercado pela ética do ser humano.
Paulo Freire também incita o educador a se mostrar aberto às diferenças, a perceber a importância de diminuir a distância entre professor e aluno, para que haja respeito mútuo, para que o educando conscientize-se de sua importância no mundo, de que sua manifestação e participação são o princípio para tornar-se sujeito de sua própria existência, autônomo, livre, mesmo quando dependente fisicamente, pronto a decidir o que é melhor para a continuidade e melhoria de sua vida.
Essa educação não tem que ser necessariamente formal; pode ser uma educação não formal, que, para Gohn[11], designa um processo com quatro campos que correspondem às suas áreas de abrangência: a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos, a capacitação das pessoas para o trabalho, a capacitação voltada para a solução de problemas coletivos do dia a dia, a aprendizagem dos conteúdos da escola formal, de maneira diferente e em espaço alternativo, que pode ser um clube, uma associação, etc. Mais adiante, assim como o que defende Paulo Freire, diz que a educação, além de socializar conhecimentos, deve contribuir para desenvolver no indivíduo a capacidade de pensar e atuar de forma criativa, inovadora e com liberdade, uma educação verdadeiramente transformadora, o sujeito consciente de sua cidadania.
É essa consciência, ou a ausência dela que poderá trazer “muitos futuros” como afirma Milton Santos[12] , futuros esses que serão o resultado de arranjos diferentes, de acordo com o grau de consciência de cada um, entre o que é possível e o desejado, na superação dos obstáculos através do coletivo, mesmo que seja para desafiar e contrariar a ideologia dominante.
E é retornando Paulo Freire, quando propõe a integração do homem através de sua capacidade de transformar a realidade para então ajustar-se a ela, que o idoso poderá ser livre e atuar segundo sua vontade, sabendo o que pensa e o que quer.
Essa educação tem que ser multidisciplinar e continuada; além disso, tem que envolver a sociedade e a comunidade num trabalho de ação política, para a solução dos problemas; tem que ser continuada, para que os idosos tenham oportunidade de refletir e refletindo, possam lutar contra os limites impostos pela mesma sociedade.
E é nesse momento que o educador assume um papel diferenciado, “ o papel de educador libertador, garantindo no processo educativo o estudo e a reflexão das vivência do idoso, de situações cognitivas – doenças, perdas, medos, junto com esperança, alegria, sem mascarar a realidade, auxiliando-o a projetar situações diferentes às proporcionadas pelo sistema capitalista competitivo, através da apropriação do conhecimento, como também, a ajudar o idoso a colocar o conhecimento a serviço de sua construção como sujeito, com solidariedade e compaixão”[13]
Aos poucos, ainda timidamente, percebem-se alterações na sociedade: multiplicam-se os grupos de terceira idade e solidificam-se os movimentos dos aposentados. Os movimentos de terceira idade oferecem e incentivam os idosos a participarem de universidades abertas, de grupos de encontro, de lazer, de atividades físicas, entre outros; já os aposentados, uniram-se para reivindicar que o Estado cumpra com seus deveres referentes à Previdência Social. Além disso, conquistaram o direito de participar na gestão daquilo que lhes interessam e hoje têm lugar nos Conselhos de Saúde[14].
Passo a passo, muitas vezes sofrendo por serem incompreendidos em seu desejo de alterar os paradigmas sobre a velhice e os velhos, e superando inúmeros conflitos com a família e a sociedade, há uma mudança nos papéis que os idosos desempenham. A troca dessas informações, dessas vivências, faz parte de um ciclo de educação não formal que podem promover uma nova visão para os outros atores, que são toda a sociedade. E para eles mesmos, pessoas que buscam ser donos de sua vida, autônomos, transformando essa etapa da existência em algo produtivo, prazeroso, cidadão.
Referências bibliográficas
FREIRE, Paulo. Globalização, ética e solidariedade In RESENDE, P. DOWBOR, L./ IANNI, O., Desafios da Globalizaçao, Petrópolis, Vozes, 1999.
__________ Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo, Paz e Terra, 1996, pág. 127(Coleção Leitura).
FRIGOTTO, G. Prefácio In BIANCHETTI, Roberto G. Modelo Neoliberal e Políticas Educacionais. São Paulo, Cortez Editora, 1996, 2ª edição.
GOHN, Mª G. Educação não formal e cultura política: impactos sobre o associativismo do terceiro setor. São Paulo, Cortez, 2001, pág. 99 (Coleção Questões de nossa época: v. 71).
LEBRÃO, M. L. & DUARTE, Y. A . O. O Projeto SABE no município de São Paulo: uma abordagem inicial. Brasília, Organização Pan-Americana de Saúde, 2003, pág. 12-15
LIMA, M. P Gerontologia Educacional: uma pedagogia específica para o idoso; uma nova concepção de velhice. São Paulo, LTR, 2000.
PALMA, L. S. & CACHIONI, M. Educação Permanente: perspectiva para o trabalho educacional com o adulto maduro e com o idoso In Tratado de Geriatria e Gerontologia, Rio de Janeiro, Koogan, pág. 1099-1100
PESSINI L. & QUEIROZ, Z. V. Envelhecimento e Saúde: desafios para o novo século In O mundo da Saúde, São Paulo, ano 26, v. 26, n. 4, outubro/dezembro/2002, ISSN 0104-7809
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização, Rio de janeiro, Record, 2003, pág. 161
SIMÕES, J. A . Velhice e espaço político, apud MINAYO, M. C. S. & COIMBRA, C. E. Antropologia, Saúde e Envelhecimento, Rio de Janeiro, Editora Fiocruz, 2002, pág. 21-23
SOARES, L. T. Os custos sociais do ajuste neoliberal na América Latina. São Paulo, Cortez, 2000, pág. 8-40 (Coleção Questões de nossa época, v. 78).
____________________________
[1] LEBRÃO, M. L. & DUARTE, Y. A . O. O Projeto SABE no município de São Paulo: uma abordagem inicial. Brasília, Organização Pan-Americana de Saúde, 2003, pág. 12-15
[2] PESSINI L. & QUEIROZ, Z. V. Envelhecimento e Saúde: desafios para o novo século In O mundo da Saúde, São Paulo, ano 26, v. 26, n. 4, outubro/dezembro/2002, ISSN 0104-7809
[3] SOARES, L. T. Os custos sociais do ajuste neoliberal na América Latina. São Paulo, Cortez, 2000, pág. 8-40 (Coleção Questões de nossa época, v. 78).
[4] Idem, pág. 45
[5] FRIGOTTO, G. Prefácio In BIANCHETTI, Roberto G. Modelo Neoliberal e Políticas Educacionais. São Paulo, Cortez Editora, 1996, 2ª edição, p. 14.
[6] SOARES, L. T. Os custos sociais do ajuste neoliberal na América Latina. São Paulo, Cortez, 2000, pág. 69 (Coleção Questões de nossa época, v. 78).
[7] FREIRE, Paulo. Globalização, ética e solidariedade In RESENDE, P. DOWBOR, L./ IANNI, O., Desafios da Globalizaçao, Petrópolis, Vozes, 1999.
[8] LIMA, M. P Gerontologia Educacional: uma pedagogia específica para o idoso; uma nova concepção de velhice. São Paulo, LTR, 2000, pág. 47
[9] PALMA, L. S. & CACHIONI, M. Educação Permanente: perspectiva para o trabalho educacional com o adulto maduro e com o idoso In Tratado de Geriatria e Gerontologia, Rio de Janeiro, Koogan, pág. 1099-1100
[10] FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo, Paz e Terra, 1996, pág. 127(Coleção Leitura).
[11] GOHN, Mª G. Educação não formal e cultura política: impactos sobre o associativismo do terceiro setor. São Paulo, Cortez, 2001, pág. 99 (Coleção Questões de nossa época: v. 71)
[12] SANTOS, Milton. Por uma outra globalização, Rio de janeiro, Record, 2003, pág. 161
[13] LIMA, Mariuza P. Gerontologia Educacional: uma pedagogia específica para o idoso, uma nova concepção de velhice, São Paulo, LTR, 2000.
[14] SIMÕES, J. A . Velhice e espaço político, apud MINAYO, M. C. S. & COIMBRA, C. E. Antropologia, Saúde e Envelhecimento, Rio de Janeiro, Editora Fiocruz, 2002, pág. 21-23
